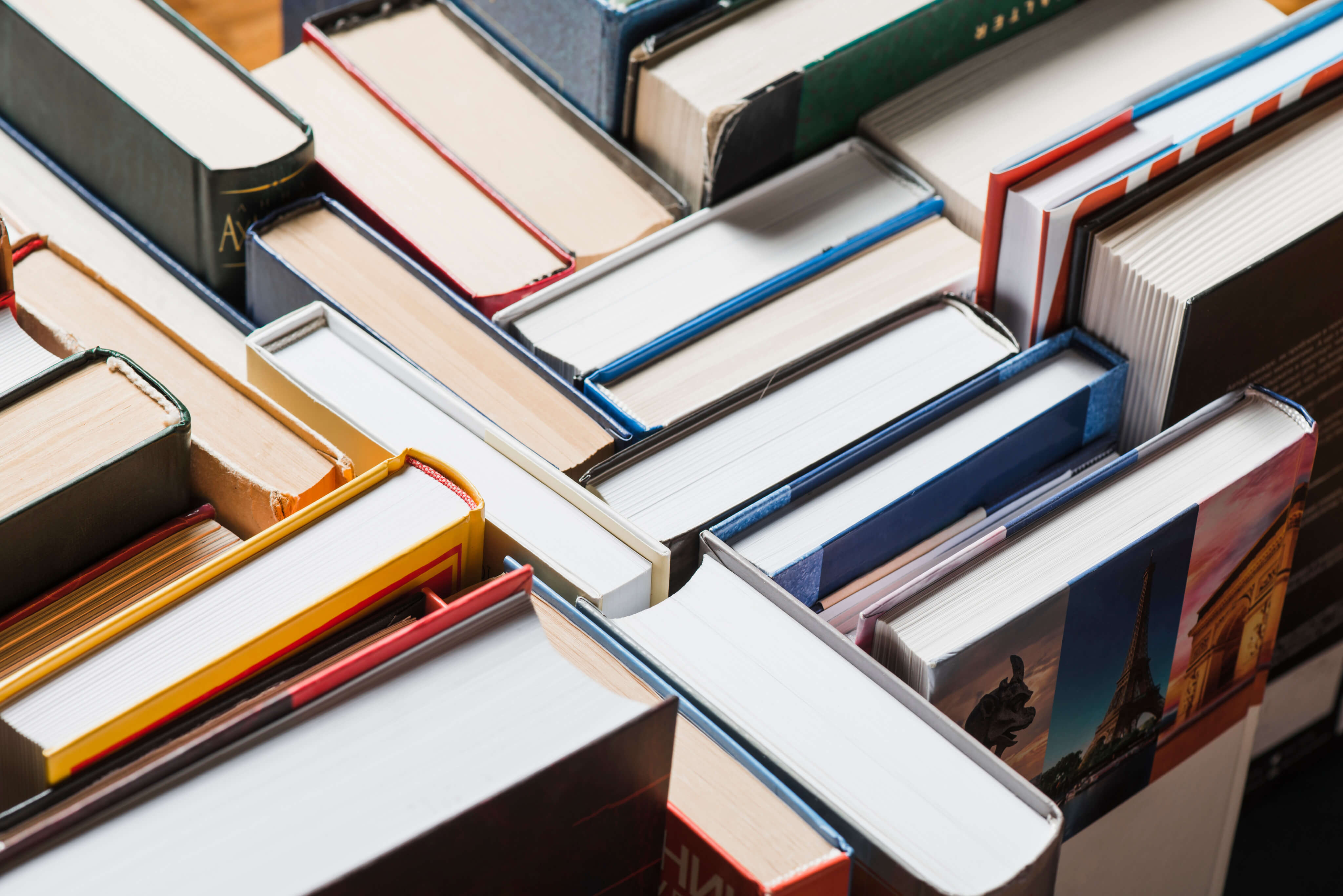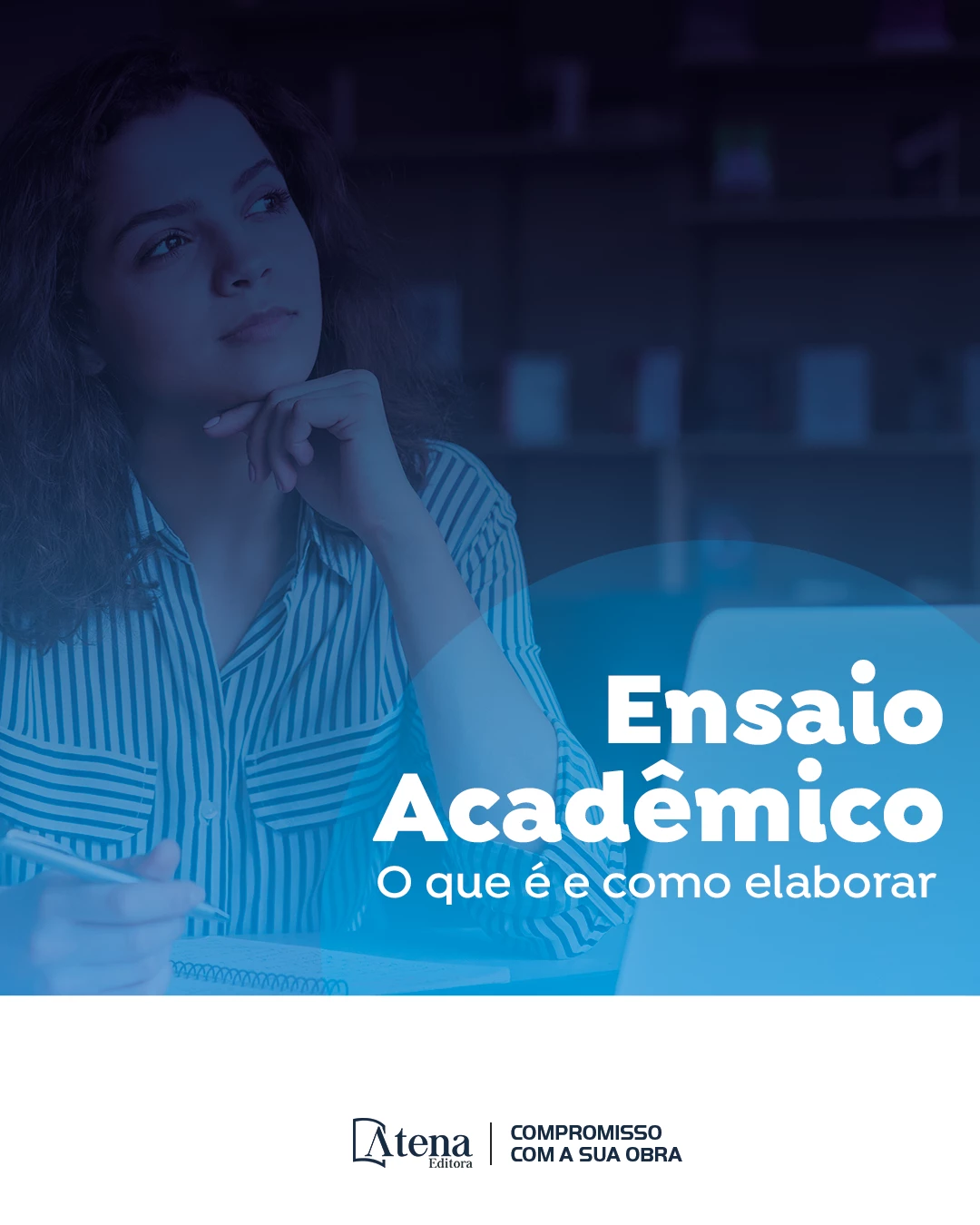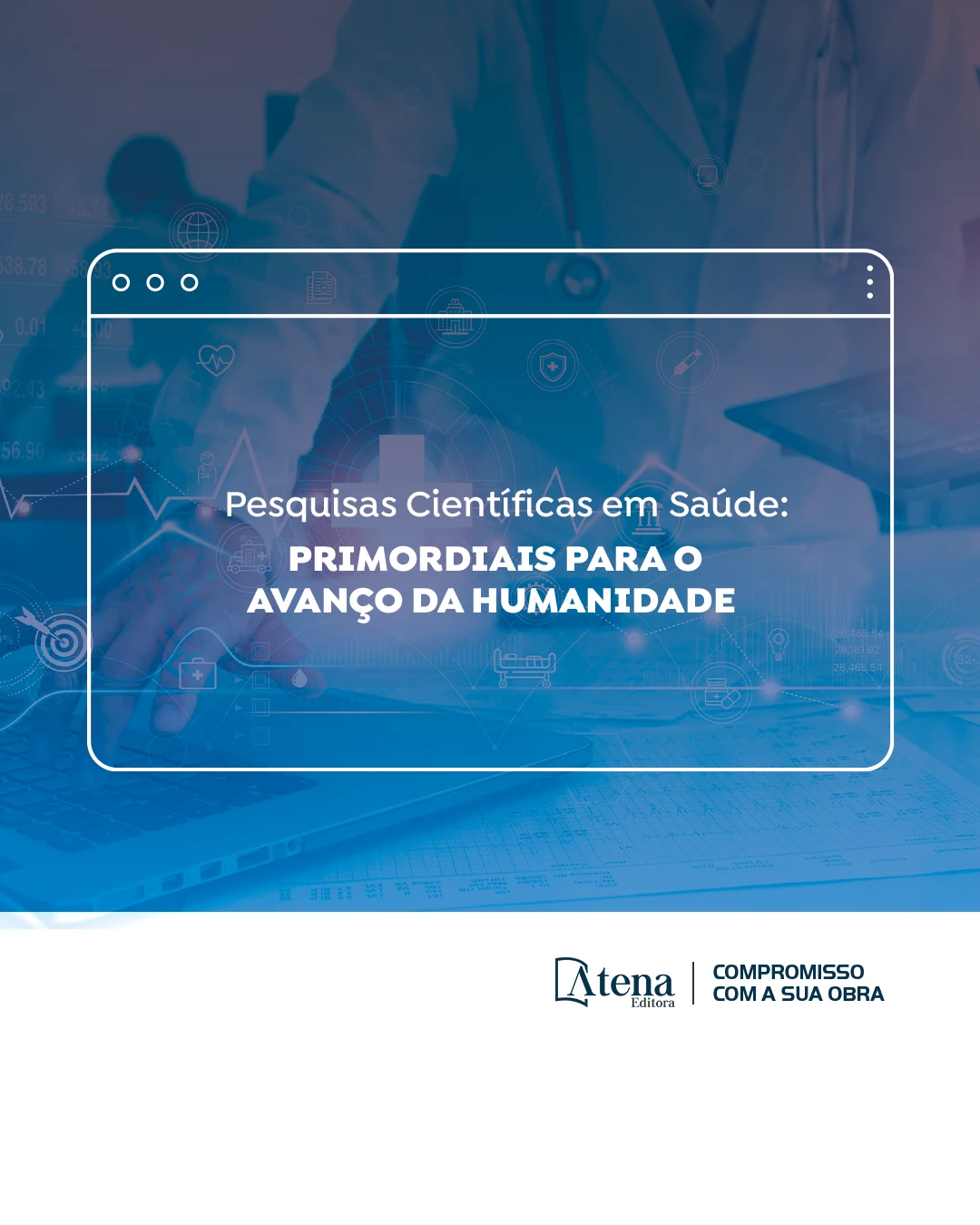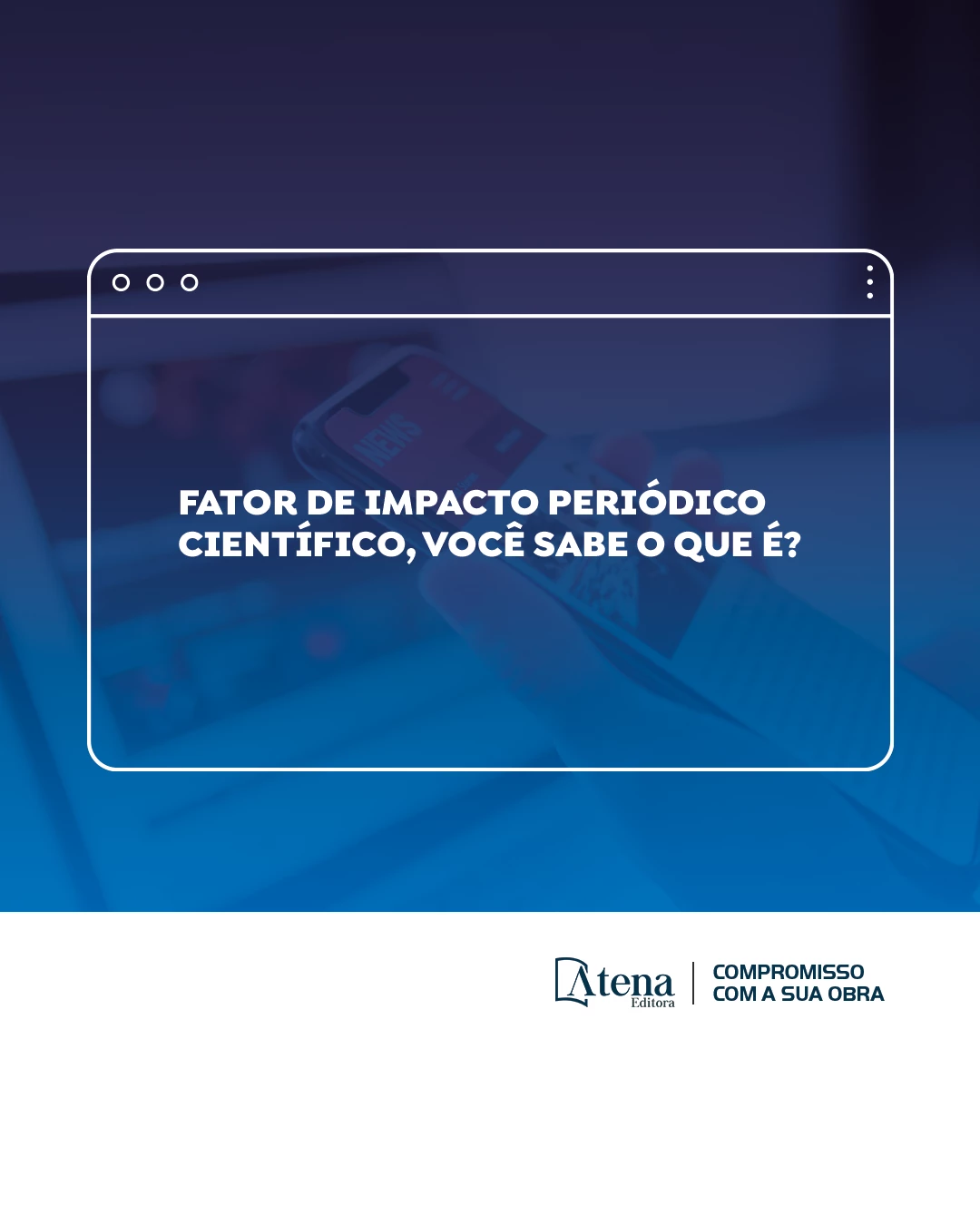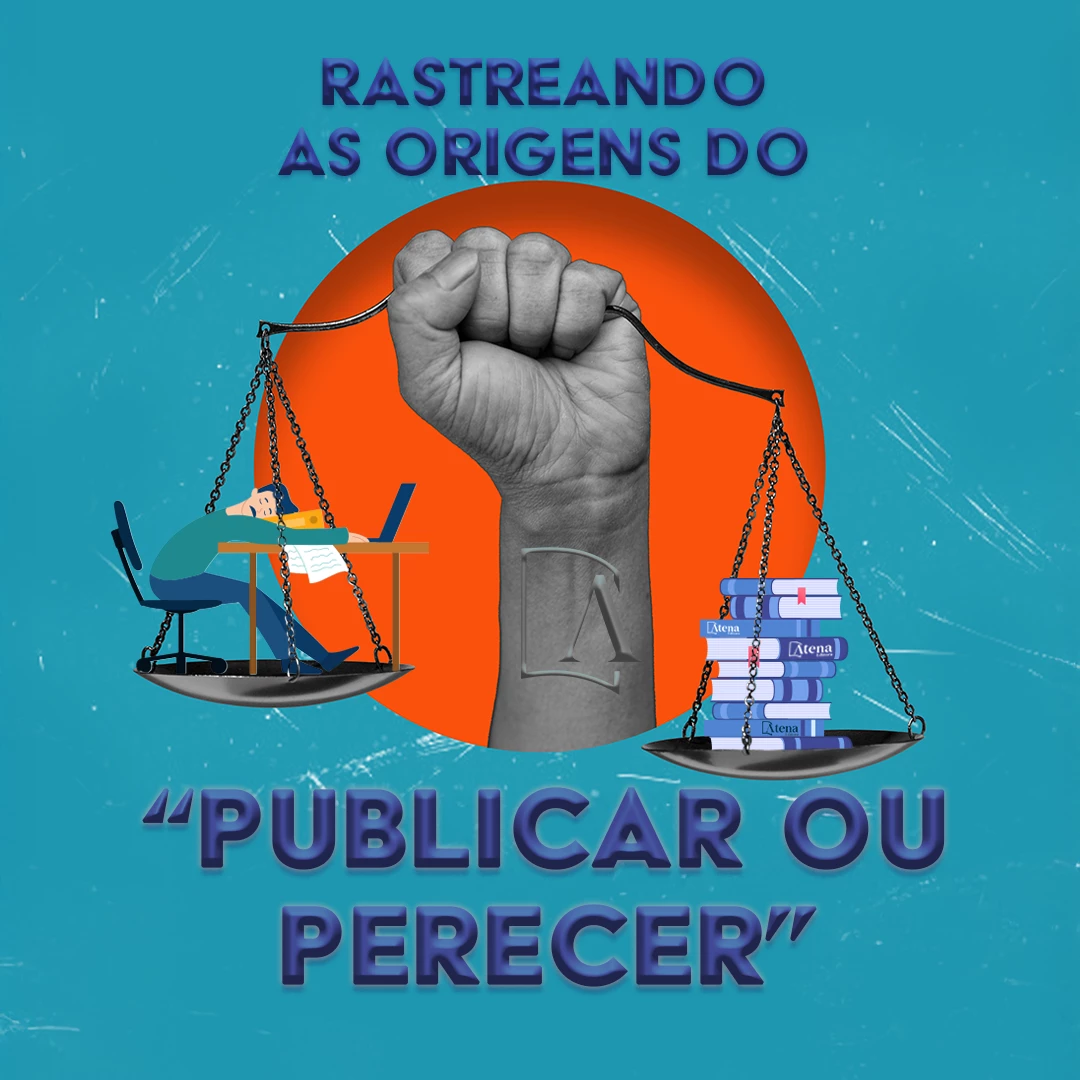
Perecer
Rastreando as origens do “publicar ou perecer”
"Publish or perish." A expressão, repetida quase como um mantra em instituições acadêmicas ao redor do mundo, carrega consigo o peso da urgência, da cobrança e da sobrevivência no universo da pesquisa científica. Mas de onde vem esse conceito que dita o ritmo da produção intelectual em tantas universidades e centros de pesquisa?
Neste artigo, vamos entender as origens históricas, os desdobramentos e os debates contemporâneos que envolvem essa frase que molda carreiras e define políticas acadêmicas.
Quando surgiu a ideia de “publicar ou perecer”?
O termo publish or perish foi usado pela primeira vez em 1942, pelo professor Logan Wilson, no livro "The Academic Man". Nele, Wilson discutia a crescente pressão sobre professores universitários nos Estados Unidos para que publicassem artigos científicos com frequência, como forma de garantir estabilidade na carreira e respeito profissional.
Embora a frase tenha ganhado força no século XX, especialmente no pós-guerra, suas raízes estão ligadas à expansão do modelo universitário moderno, ao fortalecimento da ciência como motor de desenvolvimento e à profissionalização da carreira docente. Com o tempo, a lógica da produtividade científica passou a se sobrepor a outras dimensões do fazer acadêmico — como o ensino, a extensão e a formação de alunos.
Por que o “publicar ou perecer” se tornou dominante?
A expressão reflete uma mudança estrutural no modo como o conhecimento é avaliado e reconhecido. Alguns dos principais fatores que ajudaram a consolidar essa lógica são:
- Crescimento dos sistemas de avaliação institucional: universidades passaram a medir desempenho com base em indicadores objetivos, como número de publicações e fator de impacto.
- Expansão de periódicos e bases indexadoras internacionais: tornou-se possível mensurar e comparar cientistas globalmente.
- Disputas por financiamento público e privado: pesquisadores que publicam mais tendem a receber mais recursos.
- Pressões por reconhecimento e ascensão na carreira acadêmica: publicações passaram a ser pré-requisitos para bolsas, promoções e prestígio.
Críticas ao modelo: eficiência ou precarização?
Embora o sistema tenha incentivado avanços científicos e aumentado a visibilidade da produção acadêmica, ele também é alvo de diversas críticas:
- Produção em massa com pouca profundidade: pesquisadores publicam por obrigação, não por relevância.
- Desigualdades de acesso à publicação: pesquisadores de países em desenvolvimento ou instituições com menos recursos enfrentam barreiras técnicas, linguísticas e financeiras.
- Estresse e adoecimento mental: a cobrança por produtividade constante impacta a saúde dos profissionais da ciência.
- Negligência de outras dimensões acadêmicas: ensino e extensão, pilares das universidades, muitas vezes ficam em segundo plano.
E hoje? Como repensar essa lógica?
Nos últimos anos, diversas instituições têm debatido novos modelos de avaliação científica. Movimentos como o DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) e a Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) defendem que qualidade deve prevalecer sobre quantidade, e que impacto social e educacional também devem ser considerados.
Além disso, surgem iniciativas que promovem ciência aberta, produção colaborativa, valorização de preprints, métricas alternativas (altmetrics) e divulgação científica como parte legítima da atuação acadêmica.
Conclusão: publicar, sim — mas com propósito
O “publicar ou perecer” moldou uma geração de pesquisadores, impactou carreiras e transformou o ecossistema acadêmico. No entanto, é cada vez mais necessário repensar essa lógica, buscando equilíbrio entre produtividade e propósito.
Publicar deve ser um meio para compartilhar conhecimento, contribuir com a sociedade e avançar na ciência — não um fim em si mesmo.